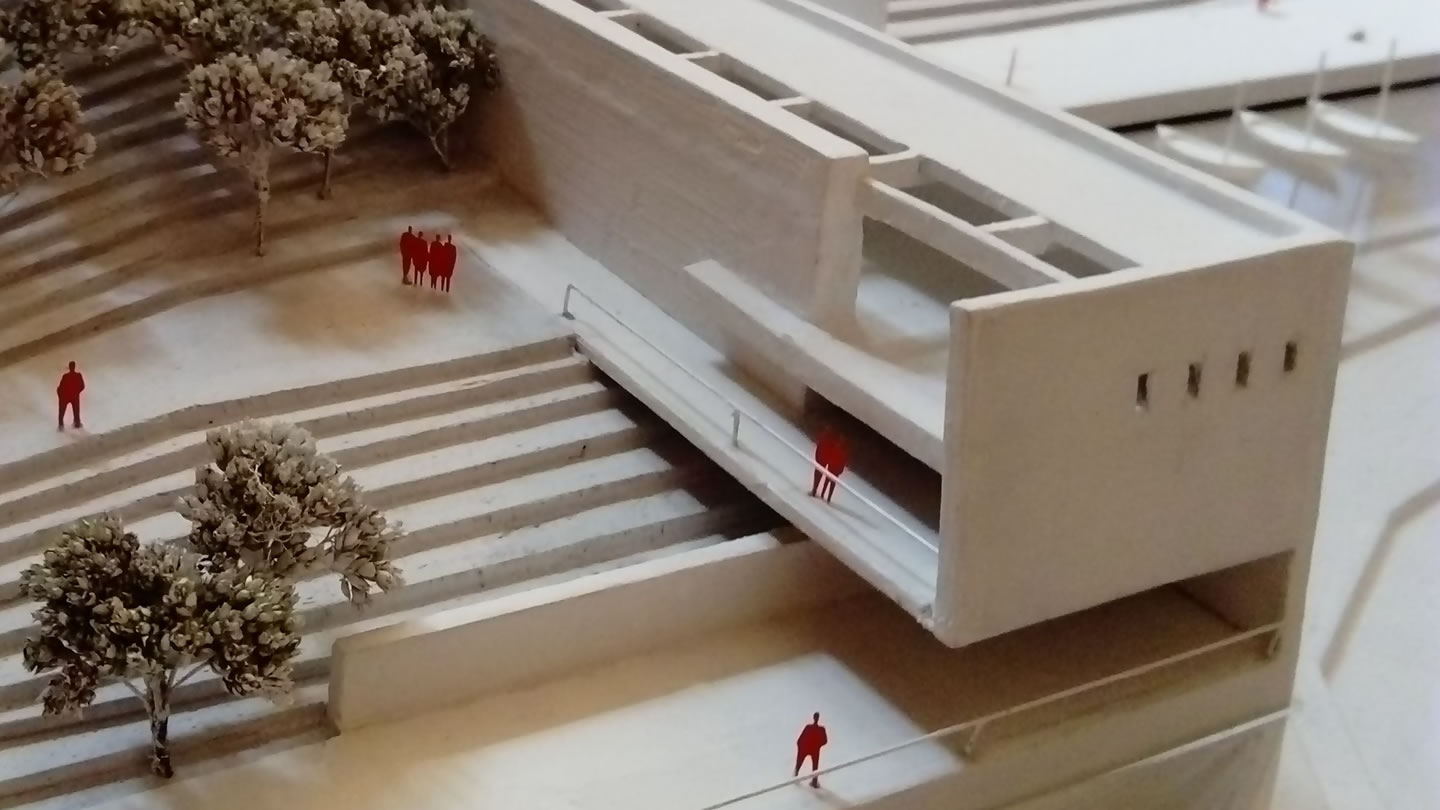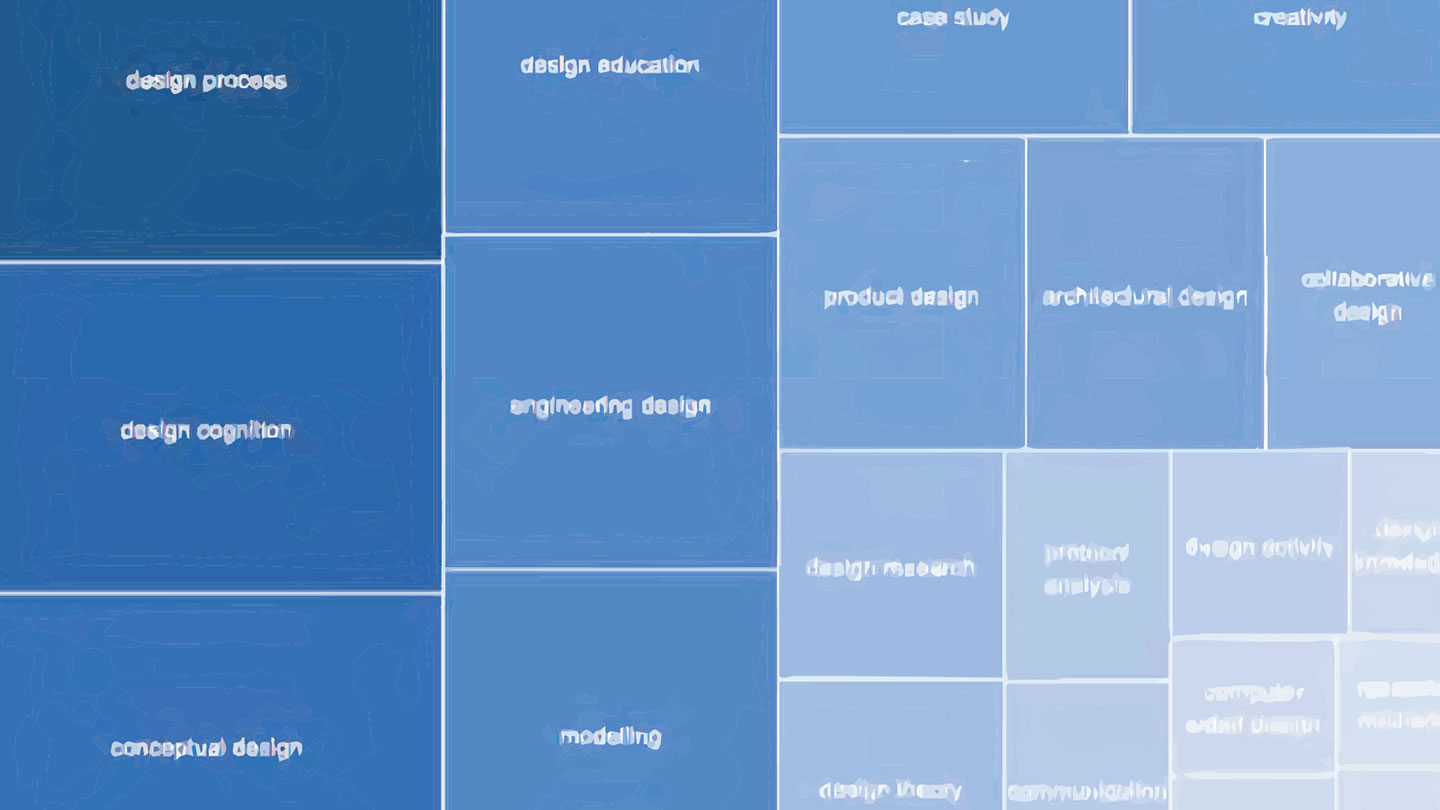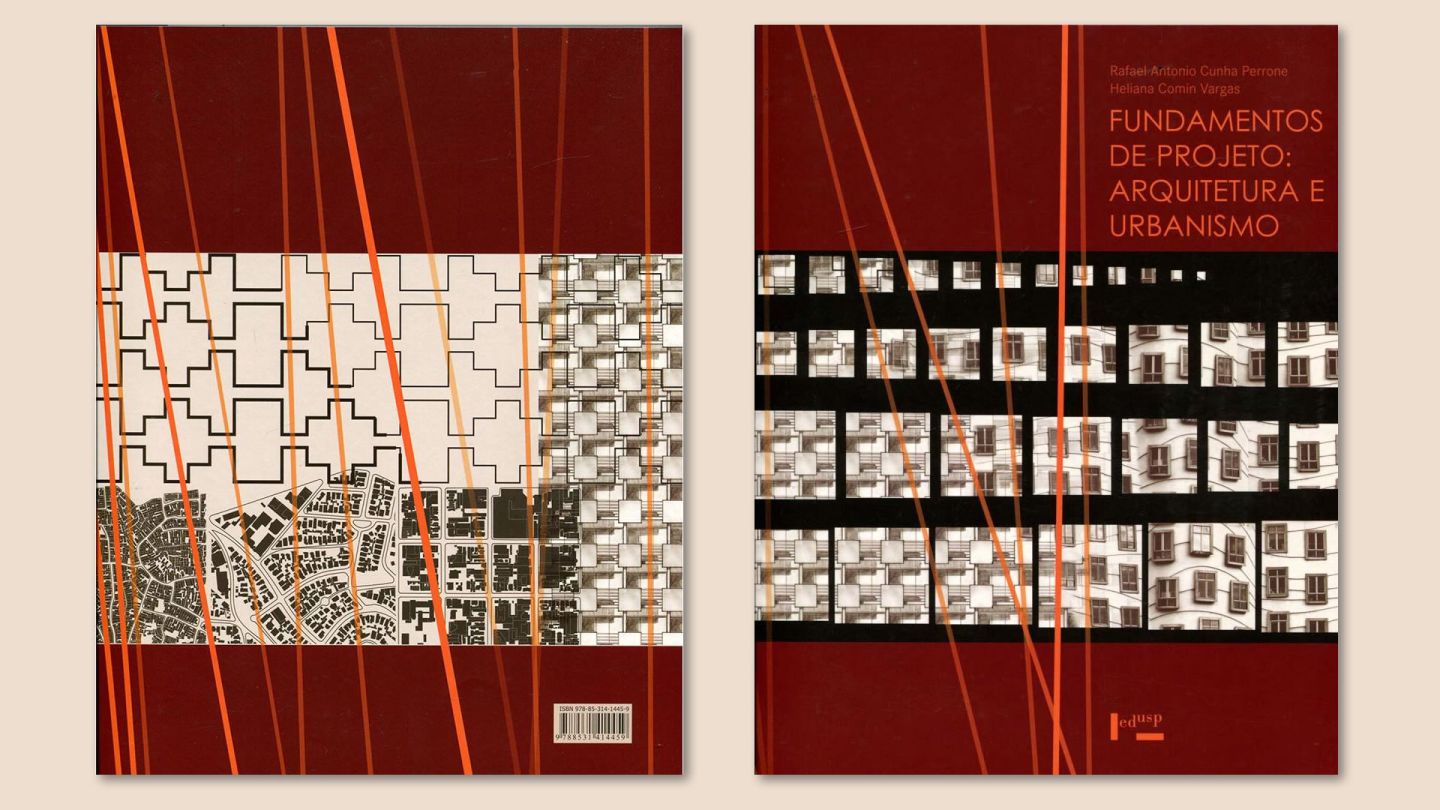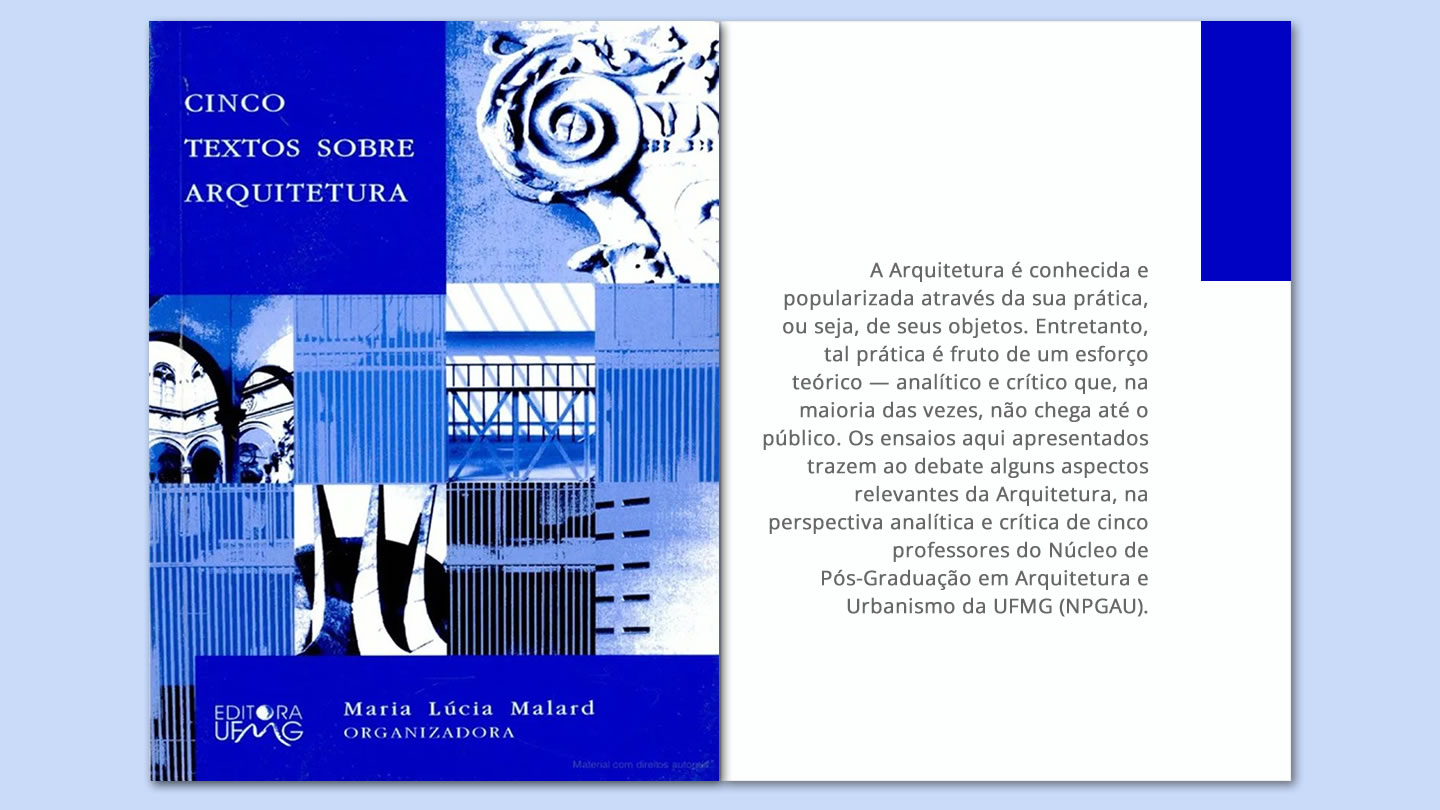Fazer uma resenha do livro “The Social Logic of Space” não é para qualquer um, considerando a complexidade do seu conteúdo e dos aspectos que ele aborda. Então, com a permissão do professor Frederico de Holanda, vou deixar aqui um trecho do seu artigo “Rótulos, ah! Os rótulos…” de 2019 onde ele faz uma análise muito mais aprofundada e coerente sobre o conteúdo do livro: “Começar pelo começo: eis o axioma central da Teoria da Lógica Social do Espaço (ou Teoria da Sintaxe Espacial, sua outra denominação, doravante SE), exposta com maior completude por primeiro em The social logic of space (1984, doravante SLS) que Bill assina com Julienne Hanson: o espaço é função de formas de solidariedade social, e seu duplo corolário: 1) as sociedades humanas não existem no éter, são um fenômeno concreto composto por corpos que se movimentam no espaço e no tempo, cujos padrões reconhecíveis (concentrações, dispersões) são constituídos no chão – o melhor termo – por 2) um sistema de barreiras e permeabilidades ao movimento dos corpos e de opacidades e transparências à sua mútua visão que já nasce social, pois, conscientemente ou não, o sistema implica classificar, juntar, separar, enfim ordenar corpos socialmente determinados (Hillier & Hanson, 1989). A SE delimita um campo de investigação da arquitetura que diz respeito ao modo de esta constituir sistemas de convívio; não refere outras dimensões, como a ambiental, a simbólica ou a estética. Por outro lado, o livro SLS é exemplo primoroso das relações entre teoria e história, ao ilustrar quão impossível é fazer teoria sem história, ou história sem teoria (se queremos fazê-las a sério, pelo menos em nosso campo – na física teórica são outros quinhentos): uma teoria sem história resume-se a conjecturas porventura poéticas, contudo alheias à realidade dos fatos; uma história sem teoria pode ser uma escrita ficcional pitoresca, mas escorrega facilmente para um relato desinteressante de datas, pessoas, eventos, lugares. A SE evita ambas as armadilhas.” Eu por minha parte, vou contribuir deixando aqui a tradução que fiz do Prefacio e da Introdução do livro, disponível no seguinte link. TÍTULO DO LIVRO: A Lógica Social do Espaço NOME DO AUTOR: Bill Hillier, Julienne Hanson EDITORA: Cambridge University Press ANO DE PUBLICAÇÃO: 2003 PREFÁCIO: Por mais que possamos preferir discutir arquitetura em termos de estilos visuais, seus efeitos práticos de maior alcance não estão no nível das aparências, mas no nível do espaço. Dando aparência e forma ao nosso mundo material, a arquitetura estrutura o sistema do espaço em que vivemos e nos movemos. Na medida em que o faz, há uma relação direta – e não apenas simbólica – com a vida social, uma vez que fornece as pré-condições materiais para os padrões de movimento, encontro e evasão que são a realização material – bem como, às vezes, o gerador – das relações sociais. Nesse sentido, a arquitetura permeia nossa experiência cotidiana muito mais do que uma preocupação com suas propriedades visuais sugeriria. Mas, por mais penetrante que seja a experiência cotidiana, a relação entre espaço e vida social é certamente pouco compreendida. De fato, por muito tempo, foi tanto um quebra-cabeça quanto uma fonte de controvérsia nas ciências sociais. Parece ingênuo acreditar que a organização espacial através da forma arquitetônica possa ter um efeito determinante sobre as relações sociais, assim como acreditar que tal relação está totalmente ausente. Revisões recentes de pesquisas sociológicas na área (Michelson, 1976 [1]) não resolvem realmente a questão. Algumas influências limitadas de tais fatores espaciais generalizados como densidade às relações sociais podem acontecer, sujeitas a uma forte interação com variáveis sociológicas como a família (p. 92), homogeneidade (p. 192) e estilo de vida (p. 94). Mas pouco é dito sobre as maneiras pelas quais as decisões arquitetônicas estratégicas sobre a forma construída e a organização espacial podem ter consequências sociais. O enigma é agravado pela crença generalizada de que muitos ambientes modernos são “socialmente ruins”. Novamente, há uma tendência para discuti-las em termos de variáveis físicas simples e gerais, tais como a altura do edifício. No entanto, a inferência de que fatores espaciais mais fundamentais estão envolvidos é fortemente apoiada pela falha de esquemas recentes de baixa densidade e alta densidade para fornecer uma alternativa convincente após o fracasso da construção de moradias. Habitações modernas, de alto e baixo crescimento, têm em comum a inovação, fundamentalmente, na organização espacial, e ambas produzem, ao que parece, ambientes sem vida e desertos. Ficou claro que a falta de compreensão precisa da natureza da relação entre organização espacial e vida social é o principal obstáculo para um melhor design. O lugar óbvio para buscar tal entendimento está nas disciplinas que estão preocupadas com o efeito da vida social na organização espacial – como a organização espacial é, em certo sentido, um produto da estrutura social. Esta tem sido uma preocupação central para geógrafos, mais recentemente antropólogos (Lévi-Strauss, 1963; Bourdieu, 1973, 1977), sociólogos teóricos (Giddens, 1981) e arqueólogos (Ucko et al., 1972; Clarke, 1977; Renfrew, 1977; Hodder, 1978) tornaram-se conscientes da dimensão espacial em seu assunto, e sua importância para questões de morfologia social e estrutura. [2] Isso criou os primeiros estágios de uma nova literatura interdisciplinar sobre o estudo do espaço e da sociedade. O primeiro resultado dessa atenção, no entanto, tem sido mostrar quão pouco existe de efetiva teoria e metodologia na compreensão da relação sociedade-espaço, apesar de duas décadas ou mais da “revolução quantitativa”. Mas enquanto as disciplinas acadêmicas podem simplesmente lamentar a falta de teoria, para os arquitetos e planejadores o problema é mais premente, já que, do jeito como as coisas estão, não há possibilidade de que a teoria científica da relação entre sociedade e espaço ajude a entender o que deu errado com o desenho contemporâneo ou possa sugerir novas abordagens. ONDE ACHAR: Amazon